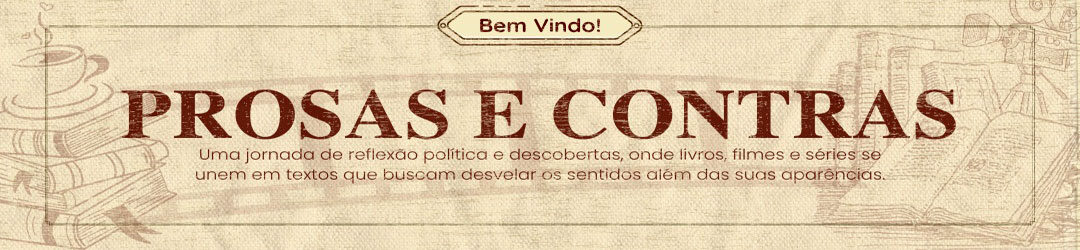Para uma análise do seriado Black Mirror, optamos momentaneamente pelo episódio White Bear, da segunda temporada da série Black Mirror. Escrito por Charlie Brooker, também criador do seriado, e dirigido por Carl Tibbetts, o episódio foi ao ar no Reino Unido, em 18 de fevereiro de 2013[1]. Apresentado como uma ficção distópica, procuraremos analisá-la na tentativa de verificar quais seriam os elementos aparentemente ficcionais que já se encontrariam presentes nas sociedades contemporâneas.
De pronto, uma breve síntese faz-se necessária para que o eventual leitor que não tenha tido contato com a série possa compreender, ainda que parcialmente, as críticas aqui apresentadas. A trama se inicia em uma casa, donde uma mulher, Victoria Skillane (Lenora Crichlow), acaba de despertar em estado de visível confusão. Com os pulsos envoltos por ataduras, comprimidos espalhados pelo chão, uma tentativa fracassada de suicídio aparece como a hipótese mais provável, no entanto, ela não se lembra de absolutamente nada: não sabe quem é, de onde veio ou como chegou ali. Sua única pista é um porta-retratos, preenchido com fotos daqueles que parecem ser seu companheiro e sua filha.
Ao deixar a casa em busca de esclarecimentos, Victoria se depara com pessoas apáticas, que não respondem aos seus pedidos de ajuda, limitando-se a filmá-la e fotografá-la com seus smartphones. Surge, então, um sujeito mascarado que atira nela com uma espingarda e começa a persegui-la, sem com isso alterar o estado de apatia das pessoas no entorno – elas continuam capturando todas as imagens. Na fuga, ela é ajudada por um casal de amigos que garantem sua segurança, mas um dos dois acaba ficando para trás, aparentemente vindo a óbito. Jem (Tuppence Middleton) se mostra abismada com o fato de Victoria não saber o que se passa, mas oferece uma explicação sucinta. Num passado recente, um sinal com imagens piscando apareceu em todas as telas (televisões, computadores, smartphones, etc.), convertendo a esmagadora maioria da população em espectadores (onlookers); uma espécie de “plateia que não dá a mínima para o que acontece”. Quanto aos agressores que aparecem durante o episódio, Jem os chama de caçadores (hunters): pessoas que, dadas as circunstâncias, perceberam que poderiam fazer o que quisessem. De início, suas ações eram voltadas para delitos contra a propriedade, mas logo passaram a perseguir pessoas. Como fica claro, os dois grupos se complementam morbidamente: os espectadores passam a ser o público dos caçadores. Sendo assim, a hipótese de solução parece óbvia: ir até a estação que transmite o sinal para, então, desligar os transmissores e pôr fim ao pesadelo.
Após enfrentarem alguns percalços, sempre assistidos por espectadores cujo estado de apatia só é rompido por picos de violência, as duas conseguem chegar à estação. Quando estão prestes a atear fogo nos transmissores, dois dos caçadores aparecem e começam a ataca-las. Victoria consegue se apoderar da espingarda de um deles, mas, ao disparar, percebe, aturdida, que a munição eram confetes. O que parecia ser uma parede se abre, revelando, com isso, uma plateia que aplaude aquilo que – agora sabemos – fora o último ato do espetáculo.
Todos eram atores bem ensaiados, exceto Victoria, que, ironicamente, era a protagonista sem o saber. O mistério sobre seu passado é, então, desvelado diante de seus olhos. A garotinha da foto era Jemima Sykes (Imani Jackman), a quem Victoria e seu noivo Iain Rannoch (Nick Ofield) sequestraram. Iain torturou-a, matou-a e queimou seu cadáver, enquanto Victoria, que alegou estar enfeitiçada pelo companheiro, filmava tudo com seu smartphone. Iain acabou por tirar a própria vida, o que se mostrou inaceitável por grande parte da população: a morte seria uma punição demasiado amena. Restava a cúmplice, que cumpriria o papel social de bode expiatório para satisfazer a sanha punitiva da população.
Por ter filmado, como “espectadora entusiasmada” com o sofrimento alheio, todo o processo envolvendo a tortura, a morte e a incineração do corpo da menina, a pena deveria ser “proporcional” e “adequada” ao caso concreto: o espetáculo doentio que descrevemos até aqui é repetido diariamente e, ao final de cada exibição, Victoria tem a sua memória apagada[2], de modo a experimentar perpetuamente a dor e o sofrimento em níveis equivalentes. Tudo isso coordenado pelo Parque de Justiça Urso Branco (White Bear Justice Park), que prepara toda a encenação, cobra ingressos, orienta os espectadores e lembra-lhes, cinicamente, da principal regra a ser seguida: divirtam-se!
Como é possível notar, trata-se de uma ficção audiovisual que descreve, à moda orwelliana, um futuro sombrio para a humanidade. No caso em tela, White Bear, tal qual diversos outros episódios, é marcado por um olhar pessimista acerca do desenvolvimento tecnológico. A análise de obras ficcionais distópicas requer um esforço essencial, qual seja: o público deve tentar transcender ao máximo a imediaticidade da representação, para, com isso, identificar quais as determinações concretas nela explicitadas já se encontram presentes no nosso tempo. Dito de outro modo, a questão está em verificar o que é real no ficcional.
A narrativa distópica apresenta uma sociedade marcada pela espetacularização da punição, o que não é um fenômeno exatamente novo em termos históricos[3]. Entretanto, é inegável que o desenvolvimento das forças produtivas e, mais especificamente, do aparato tecnológico, expandiu drasticamente os horizontes dessa espetacularização. É evidente que os requintes de crueldade da distopia de Brooker dependem, em grande medida, de recursos tecnológicos ainda indisponíveis no tempo presente, mas isso não implica a inexistência de um forte componente de espetacularização punitiva nas sociedades contemporâneas.
Esse componente do espetáculo foi levado às últimas consequências por Guy Debord, que afirmou, em obra homônima, que a sociedade capitalista em que vivemos teria se metamorfoseado numa sociedade do espetáculo. Assim, o espetáculo, que se configura como relação intersubjetiva mediada por imagens, atua como instrumento de unificação entre o universal e o particular, o que faz com que a aparência seja afirmada como negação da vida humana. Para o autor, o espetáculo é carente de fins específicos ou objetivos determinados, ele é um fim em si mesmo, constituindo-se como a principal produção (e tipo de acumulação) da sociedade capitalista (Debord, 1997).
No âmbito da questão criminal, crime, criminoso (construções sociais) e punição são objetos tomados em sua imediaticidade para uma vulgar espetacularização. Assim, o Direito, que deveria cumprir o papel de limitador do poder estatal frente às liberdades individuais (Beccaria, 2003), é igualmente vulgarizado. Os fatos processuais perdem a sua importância, dando azo a práticas flagrantemente fascistas que, com rupturas e permanências, revigoram o direito penal do autor (Fragoso, 2015): a punição não decorre daquilo que o sujeito efetivamente fez, mas daquilo que ele pretensamente é. Assim, a punição não tem mais a pretensão de ressocializar o sujeito que porventura tenha incorrido em prática delitiva, e sim o condão de neutralizá-lo (Cirino dos Santos, 2018, p.452).
Se a expansão punitiva é a única coisa que importa, é evidente que garantias processuais, princípios constitucionais e direitos individuais passam a ser vistos como entraves à espetacularização punitiva: “[n]o processo penal do espetáculo o que ocorre é o primado do enredo sobre o fato” (Casara, 2015, p.14). Nesse sentido, não espanta que o princípio constitucional da presunção de inocência dê lugar à prática perniciosa da presunção de culpa. É justamente por isso que a veracidade acerca das acusações atribuídas a Victoria é absolutamente irrelevante, assim como a diferenciação entre autoria e participação: tudo o que importa é o enredo.
Como podem observar, o suplício de Victoria, muito embora ficcional e distópico, ostenta elementos de uma realidade tão profunda quanto sombria: o tratamento dispensado aos acusados e condenados pelo sistema de justiça criminal contemporâneo[4]. No espetáculo vigente, é destacado o papel da chamada grande mídia, que não raro atua como mediadora entre o poder judiciário e sociedade civil, exercendo forte pressão para que o primeiro “cumpra seu papel e faça justiça”, o que redunda na parcialidade do juiz contra o acusado, no apagamento da distinção entre justiça e vingança, bem como na reprodução de um pânico social que se verifica num sentimento geral de insegurança e medo.
O medo da violência é personificado na figura daquele que delinque, sendo, assim, retratado como um perigo a ser vencido pelo sistema de justiça criminal. Este é outro importante componente que explica o porquê de garantias processuais, princípios constitucionais e direitos individuais sejam vistos como um empecilho: se temos medo de um determinado indivíduo por considerá-lo perigoso, é natural que queiramos nos ver livres desse perigo o mais rápido possível. Não por acaso, o medo decorre de uma retratação meramente adjetiva e maniqueísta do sujeito, que é tido como um mal a ser combatido, perdendo, com isso, o status de cidadão e passando a ser encarado como um inimigo (Zaffaroni, 2007). Contra inimigos, tudo é justificado, posto que o inimigo é visto como uma não-pessoa. Mas não nos enganemos, isto não é visto pelo senso comum como uma prática perniciosa: estamos diante de um autoritarismo cool.
Este novo autoritarismo, que nada tem a ver com o velho ou o de entreguerras, se propaga a partir de um aparato publicitário que se move por si mesmo, que ganhou autonomia e se tornou autista, impondo uma propaganda puramente emocional que proíbe denunciar e que, ademais – e fundamentalmente -, só pode ser caracterizado pela expressão que esses mesmos meios difundem e que indica, entre os mais jovens, o superficial, o que está na moda e se usa displicentemente: é cool. É cool porque não é assumido como uma convicção profunda, mas sim como uma moda, à qual é preciso aderir para não ser estigmatizado como antiquado ou fora de lugar e para não perder espaço publicitário (Zaffaroni, 2007, p.69).
Em meio ao espetáculo punitivo, o inimigo é a representação mais clara de um processo de estigmatização (Goffman, 1963). As etiquetas ou rótulos utilizados nesse processo podem ser os mais variados (monstro, perigoso, imoral, sanguinário etc.), o que faz com que o acusado ou condenado seja posto à margem da sociedade como um ser que causa estranheza. Nesse sentido, muito mais importante do que determinados atributos fixos do indivíduo, são as reações sociais a esses atributos. Mas a estigmatização ainda possui um componente subjetivo de extrema importância: ao estigmatizar uma determinada pessoa ou grupo, taxando-a de anormal, por exemplo, o que estamos fazendo é, implicitamente, afirmar que somos normais. A estigmatização é sempre um processo de diferenciação negativa, de modo que tudo aquilo que identificamos no outro como algo pejorativo ou pernicioso não esteja presente em nós.
Num cenário como esse, somos forçados a aceitar que White Bear é, sim, distópico, pero no mucho. Talvez a imagem mais significativa da série sejam aqueles espectadores apáticos, sedentos por um espetáculo punitivo que jamais os saciará, nem materializará a tão almejada sensação de segurança. Cumpre indagar: o quão diferentes deles somos nós? Se Victoria é retratada como a representação do inimigo, como não-pessoa, o quão diferentes dela são os clientes preferenciais do sistema de justiça criminal vigente? Quanto ao espetáculo proporcionado pelo Parque de Justiça Urso Branco, em que ele difere substancialmente dos espetáculos promovidos e reproduzidos pela grande mídia do nosso tempo? O próprio nome da série parece fornecer uma ironia perversa: talvez aqueles que elegemos frequentemente como nossos inimigos não passem do nosso reflexo no espelho negro de nossos dispositivos.
Análise escrita em conjunto com Thiago Araujo.
NOTAS:
[1] Disponível em: https://www.imdb.com/title/tt2542420/.
[2] Durante o processo de apagamento da memória, ela é amarrada e forçada a assistir ao vídeo que gravou como cúmplice.
[3] O espetáculo punitivo já foi demasiado estudado pelas ciências sociais, figurando, inclusive, em alguns textos clássicos. Cf.: FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 42ª. Ed. Trad.: Raquel Ramalhate. Petrópolis: Vozes, 2014.
[4] Referimo-nos, obviamente, ao sistema de justiça criminal brasileiro.